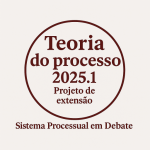O texto apresentado cumpre bem a função de expor, de forma didática, a estrutura da organização judiciária brasileira, destacando a divisão entre Justiça Comum e Especial, a hierarquia dos tribunais e as funções essenciais à justiça. Embora ressalte a importância da autonomia e da especialização, o texto não problematiza aspectos práticos, como a morosidade processual, a sobrecarga de demandas ou a dificuldade real de acesso à justiça por parte da população vulnerável.
Outro ponto que poderia ser explorado é a distância entre a estrutura formal, bem delineada na Constituição, e o funcionamento concreto do sistema. Apesar de a Defensoria Pública e a advocacia privada serem apontadas como garantias de isonomia e acesso universal, ainda há grandes desigualdades regionais na oferta de defensores, bem como entraves financeiros e burocráticos que limitam a efetividade da atuação, como o caso de Santa Catarina que foi um dos últimos estados do Brasil a criar a sua Defensoria Pública.
Esses pontos poderiam ser explorados através de hiperlinks dentro do próprio texto, que levam ao aprofundamento de determinados temas abordados no seu decorrer, dando assim mais completude a abordagem do tema.
Alunos: Eric Silva Mello e Pedro Wolff